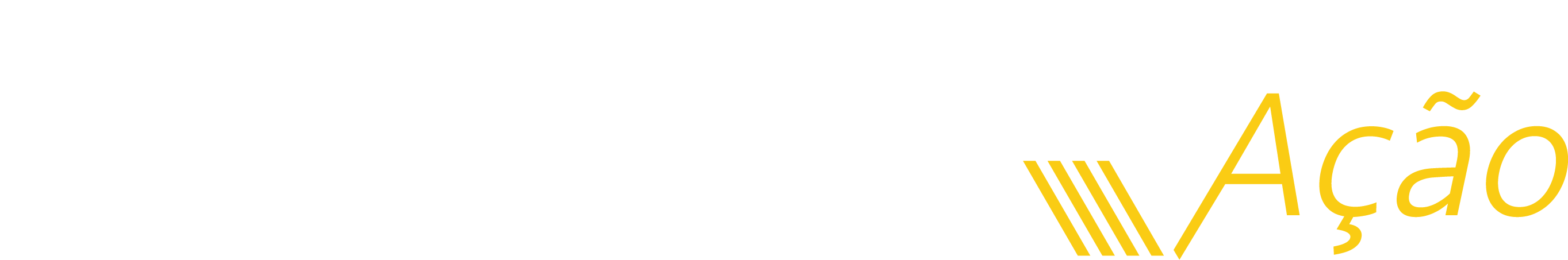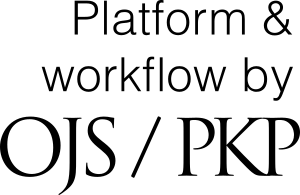MÚLTIPLOS OLHARES PARA A INCLUSÃO
Vivências, teoria e prática em diferentes espaços sociais
DOI:
https://doi.org/10.15603/ina.vol.1.2059Palavras-chave:
acessibilidade e inclusão, stricto senso e acessibilidade, ambiente religioso e acessibilidade, ensino superior e acessibilidadeResumo
A acessibilidade, como dimensão transversal dos direitos humanos, demanda ações que ultrapassem o cumprimento formal de normas, alcançando mudanças culturais e organizacionais que garantam participação, pertencimento e permanência de pessoas com deficiência e pessoas com transtornos (sejam eles mentais, de personalidade ou do neurodesenvolvimento). Apesar de, dentro dos textos legais, o amparo da acessibilidade se limitar a pessoa com deficiência, o que se percebe é que o processo de acessibilidade abrange grupos para além das deficiência. Este trabalho busca integrar evidências sobre: (i) acessibilidade organizacional e inclusão laboral; (ii) acessibilidade no ensino superior stricto sensu e (iii) acessibilidade religiosa. Estudos brasileiros indicam que, apesar da existência da legislação de cotas (vagas para pessoas com deficiência), persistem barreiras estruturais e atitudinais significativas. O preconceito, a falta de acessibilidade, o despreparo das empresas e a baixa qualificação educacional, oriunda de trajetórias escolares excludentes, são frequentemente mencionados (Pereira-Silva; Furtado, 2013; Neves-Silva et al., 2015; Santos; Nogueira, 2022). Salienta-se que esses fatores reduzem tanto as oportunidades de contratação quanto as possibilidades de progressão profissional, com implicações até em penalidades salariais. A pessoa com deficiência é colocada no ambiente laboral apenas para o cumprimento de um texto legal e não é vista como o profissional que é, sendo, na maioria das vezes, vítima do capacitismo. Como alternativas, estudos sugerem a adoção de adaptações no ambiente e nas tarefas, investimento em acessibilidade física e digital, programas de formação e sensibilização para gestores, bem como mecanismos de monitoramento e avaliação do clima organizacional. Apresenta-se aqui, casos que demonstram as dificuldades apontadas nos estudos e estratégias utilizadas no processo para a verdadeira inclusão destes indivíduos dentro do ambiente de trabalho. No que se refere à acessibilidade no ensino superior, há avanço no acesso, mas a permanência e a integração acadêmico-social seguem desafiadoras quando as instituições se limitam a “acomodações” e não transformam clima institucional e práticas pedagógicas. Para além das questões de barreiras físicas, o que se pretende mostrar na pesquisa, são as barreiras atitudinais frente a presença de alunos dentro do ambiente universitário, que conseguiram galgar uma vaga no stricto sensu. As barreiras se apresentam na tentativa de normatização destes sujeitos, deixando de lado suas singularidades. A visão capacitista também impera neste ambiente. A literatura internacional destaca a necessidade de ir “além da conformidade legal”, criando ambientes verdadeiramente inclusivos e acessíveis, principalmente para estudantes com deficiências “invisíveis” (p. ex., TEA, TDAH), frequentes na pós-graduação. As pesquisas, na atualidade, indicam que programas de formação docente baseados no Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) (Prais, 2020/2017; Borges; Schmidt, 2021) contribuem para a prática docente em contextos de ensino superior stricto sensu, sobretudo ao trabalharem com pessoas autistas. Tais atitudes promovem ganho em conhecimento pedagógico e conforto institucional, além de favorecer o planejamento de estratégias diferenciadas, como múltiplas formas de engajamento, sinalização clara de expectativas e gestão sensorial (Prais, 2020; Borges; Schmidt, 2021). No ambiente religioso, o processo de inclusão e a garantia da acessibilidade, se mostram, ainda incipientes. O ambiente religioso, em muitas realidades, apresenta barreiras atitudinais no processo de inclusão e na garantia da acessibilidade. Principalmente no que tange a acessibilidade das deficiências invisíveis. Estudos históricos sobre a surdez, por exemplo, apontam vínculos antigos entre a igreja e a escolarização de pessoas surdas, “por séculos, os surdos usufruíram especialmente da interpretação em igrejas, muito tempo antes da criação de entidades representativas desta comunidade” (Albres; Jung, 2023; Carneiro, 2017). Contudo, estudos contemporâneos como o de Silva (2024) alertam que a inclusão não efetiva somente com comunicação acessível, que inclui a presença intérpretes de Libras, legendagem de liturgias e materiais visuais, além disso, é preciso garantir participação ativa dos surdos nos ritos, no ensino religioso e nas atividades ministeriais. Pesquisas recentes (Freitas; Freitas, 2024) evidenciam que a inclusão de pessoas autistas no ambiente religioso ainda enfrenta entraves relacionados à normatização de comportamentos e à expectativa de participação segundo padrões neurotípicos. Muitas igrejas mantêm práticas centradas na ideia de “cura” ou de adequação da pessoa autista, o que pode gerar exclusão e sofrimento (Freitas; Freitas, 2024). Por outro lado, abordagens fundamentadas no paradigma da neurodiversidade propõem que a espiritualidade autista seja reconhecida como legítima, valorizando formas próprias de presença, comunicação e ritualidade, como o silêncio, a literalidade e a repetição ritualística (Walker, 2021; McRuer, 2006). A metodologia dos textos produzidos é variável entre relatos de experiência, estudos de caso e pesquisa narrativa (Clandinin; Connelly, 2015). Os resultados encontrados demonstram que, há práticas de acessibilidade capazes de vencer o pensamento capacitista e as barreiras atitudinais. Os relatos de experiência, estudos de caso e narrativas apresentadas trazem experiências positivas do processo de acessibilidade.
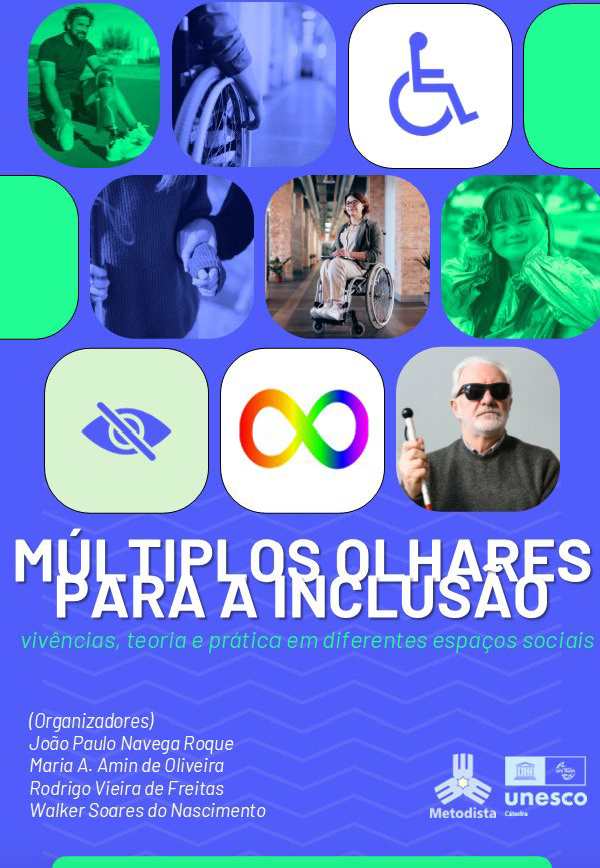
Arquivos adicionais
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 InterAção

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.